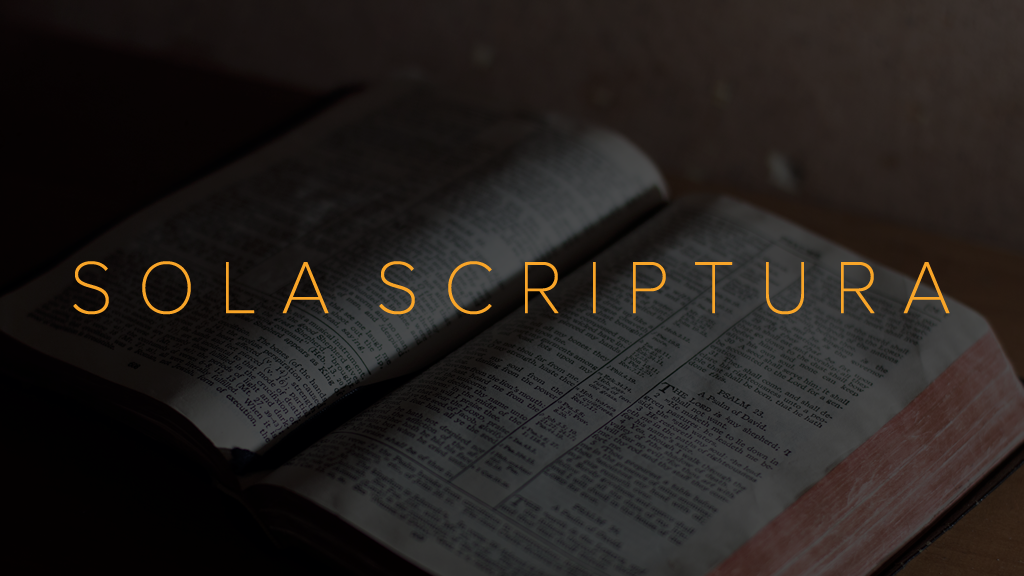A Cruzada da Santa Fé de 1799
1. Os Antecedentes
a. A contaminação historiográfica
A reconstrução histórica do período revolucionário que, na Península Itálica, vai de 1796 a 1799, e o respectivo debate historiográfico, concentraram-se, no pós-Segunda Guerra Mundial, na questão do jacobinismo — ou seja, sobretudo, se faz sentido falar de um jacobinismo italiano e qual a importância que ele teve.
A origem desse debate, no entanto, é bem mais antiga, especialmente quando se volta o olhar para o Mezzogiorno (sul da Itália), onde se manifestaram as expressões mais significativas desse jacobinismo, tanto no plano teórico quanto no da ação política.
Vincenzo Cuoco e Pietro Colletta, testemunhas diretas dos acontecimentos de 1799, desde o início deram ao debate um viés particular: uma reflexão crítica sobre os erros cometidos pelos republicanos, visando demonstrar que o fim inglório da República Napolitana foi consequência de uma revolução aceita “passivamente”.
Vincenzo Cuoco, em especial, empenha-se em atribuir aquele fracasso a uma soma de erros e circunstâncias adversas, com o objetivo de preservar o papel dirigente do “intelectual” e seu direito de se erguer como representante da nação.
Benedetto Croce — que se inspira justamente em Cuoco para enfatizar o distanciamento entre a classe política e a nação — reduz, em grande parte, a história do Mezzogiorno à história de sua classe intelectual, chegando a idealizar os jacobinos como uma nova aristocracia: "a verdadeira, a do intelecto e do espírito".
Antonio Gramsci — que adota o mesmo procedimento lógico — lamenta a ausência “momentânea” de uma vanguarda intelectual, ou seja, de um partido leninista, que ainda não havia sido fundado, e propõe uma interpretação das insurreições como luta de classes entre camponeses e burguesia.
Em ambas as hipóteses interpretativas, a história das ações humanas acaba sendo sistematicamente reduzida, de forma exclusiva, à perspicácia ou aos erros dos grupos dirigentes.
Ignora-se ou desvaloriza-se a participação popular, oferecendo-se, assim, explicações totalmente insuficientes para os fatos.
A abordagem “classista”, em particular, busca em vão validar a ideia de uma conflituosidade social generalizada em toda a península, que se apresentaria com características uniformes, mesmo em populações diversas, governadas por regimes distintos, inseridas em contextos geoeconômicos desiguais e portadoras das mais variadas tradições.
Há distorções também na historiografia nacionalista, que vê no sanfedismo apenas a afirmação de valores nacionais e patrióticos, considerando-o, portanto, como uma reação contra o invasor estrangeiro e não contra os princípios revolucionários. Essa corrente argumenta que tais princípios teriam sido mais bem aceitos se tivessem sido apresentados de outra maneira e em outras circunstâncias.
Desse modo, a matriz religiosa dos acontecimentos desse período aparece atenuada ou completamente ignorada, e a resistência armada de povos inteiros, que lutaram em defesa de sua fé e de suas tradições — sobretudo onde se preservava uma coerente coesão da nação cristã — ainda hoje é esquecida por muitos ou, quando lembrada, é feita com desprezo.
O exemplo mais evidente disso é justamente a insurreição no sul da Itália, que, em comparação com outros episódios similares na península, se destaca como modelo, tanto pela amplitude do fenômeno, quanto pela menor fragmentação dos acontecimentos e pela existência de um, ainda que pequeno, núcleo dirigente, que soube coordenar a generosa reação popular.
b. Fermentos revolucionários
A formação de um reino napolitano independente, em 1734, dá início a tensões progressivas com Roma, devido à política anticurial agressiva adotada pela corte.
Esse atrito culmina, com a assinatura de um novo Concordato e a supressão do Santo Ofício, na abolição do tributo da “chinea”, em 1788 — símbolo da submissão feudal do reino à Santa Sé.
Paralelamente à laicização do Estado, acentua-se a secularização da sociedade.
Não é possível identificar com precisão as fases decisivas da ruptura entre cultura religiosa e cultura laica, mas um ponto-chave é o afastamento prático da Igreja por parte de muitos “cavalheiros” e membros da classe média, juntamente com a supressão da Companhia de Jesus.
A partir de então, os filojansenistas e os iluministas napolitanos passam a desfrutar de plena liberdade de ação.
A adoção de leis de inspiração josefinista em relação ao clero regular também tem consequências graves: os religiosos, especialmente os franciscanos, diminuem em número e as ordens decaem visivelmente, mergulhados em agitação e desorganização.
Ao fechamento dos principais centros de cultura religiosa e à supressão de várias congregações leigas, seguem-se dois eventos cruciais para o desenvolvimento da cultura e moral revolucionárias:
a reforma universitária, que desvaloriza as ciências eclesiásticas e dá maior autonomia às disciplinas profanas;
e a expansão das lojas maçônicas.
A nobreza é a classe mais afetada pelo sopro subversivo e seus representantes são gradualmente seduzidos por um espírito de dissolução e incredulidade.
Os barões transformam-se em cortesãos e simples proprietários rurais, detentores de títulos pomposos e cada vez menos significativos, preocupados apenas em preservar seus privilégios, sem oferecer à comunidade qualquer contrapartida em forma de serviço.
Além disso, passam a exigir a abolição dos vínculos feudais, os quais — embora indispensáveis à economia camponesa — representam, para os senhores, contratos e costumes pouco lucrativos.
Com o colapso do antigo sistema, emerge uma nova classe, genericamente definida como “burguesa”, composta majoritariamente por advogados, comerciantes e profissionais liberais.
Também eles, em nome da ideia iluminista de propriedade absolutamente livre de restrições, exigem o fim de práticas tradicionais como:
as terras comunais,
os usos civis,
os aluguéis e taxas simbólicas,
o incentivo à pequena propriedade e ao cultivo familiar —
todas elas fundamentais para complementar a subsistência das populações rurais.
É justamente nesse período de transição, da velha economia para a nova, que as condições de vida se deterioram radicalmente.
Os novos arrivistas se apropriam de terras — graças à usura, ao confisco de bens eclesiásticos, à usurpação de terras comunais e públicas — e trazem consigo a dureza e a tributação opressiva do capitalismo liberal.
Mais grave ainda é a ruptura daquele contato existencial, daquela homogeneidade cultural e solidariedade entre senhores e camponeses que caracterizavam o Antigo Regime.
Por isso, a reação popular ao fim do século não é anti-feudal, nem mesmo anti-aristocrática — exceto onde a nobreza havia abdicado de seu papel de mediação e comando —, mas sim voltada contra a nova mentalidade revolucionária.
Essa mentalidade impunha:
uma economia sem vínculos corporativos e sem freios morais,
rompia os laços entre as diferentes classes sociais,
difundia uma cultura alheia e hostil às tradições civis e religiosas do país.
c. Fermentos contrarrevolucionários
Preparador remoto, porém profundo, daquela resistência foi São Afonso Maria de’ Liguori, “o mais inteligente restaurador religioso do século XVIII”.
Ele ofereceu sua enérgica colaboração à Igreja, então abalada por ataques externos e internos, dedicando-se com vigor a melhorar as condições espirituais e materiais do povo.
Seu temperamento prático o levava a enfrentar os problemas mais imediatos da vida do crente, ameaçada pelo Iluminismo e pelo jansenismo, que haviam provocado o afastamento dos cristãos da fé, o declínio da prática sacramental, uma grande decadência moral, e um estado de espírito dominado por dúvida e desconfiança.
Como membro das Missões Apostólicas, percorreu os vilarejos vesuvianos, os Apeninos e a Puglia, anunciando com simplicidade as verdades eternas.
Em 1732, desejando evangelizar mais eficazmente as populações do sul da Itália — especialmente as mais abandonadas e privadas de auxílio espiritual — São Afonso fundou a Congregação do Santíssimo Salvador, depois chamada Congregação do Santíssimo Redentor.
Enfrentou desde o início a hostilidade do capelão-mor do reino, Celestino Galiani, do ministro Bernardo Tanucci e de outros membros do governo, que não queriam nem ouvir falar de novas ordens religiosas, justo no momento em que pensavam em suprimir as já existentes.
Apesar disso, com apoio papal, conseguiu obter um decreto real que permitia à congregação uma existência precária, mas a protegia contra novos ataques.
Após formar um “exército” de homens apostólicos, São Afonso cercou-se de eclesiásticos e leigos de todas as classes, sexos e idades, organizando-os em numerosas associações:
dos Operários,
dos Cavalheiros,
dos Clérigos,
dos Missionários Diocesanos,
das Mulheres Católicas,
da Juventude Feminina,
das Escolas Pias, entre outras.
Como profundo conhecedor dos corações e necessidades das diversas camadas sociais, São Afonso buscava oferecer assistência material e espiritual adequada à natureza específica de cada instituição.
Dedicou-se de forma especial aos grupos mais humildes, organizando, desde 1717, as chamadas Capelas Vespertinas (Cappelle Serotine).
Os frequentadores mais assíduos vinham do meio artesanal, mas também havia “lazzari” (populares urbanos napolitanos), e todos se reuniam à noite, após o trabalho, para duas horas de oração e catequese.
A obra se difundiu rapidamente e tornou-se uma escola de educação cívica e religiosa.
Dedicou atenção especial à nobreza, visto que a Igreja, absorvida pelos debates jurisdicionalistas e centrada pastoralmente na catequese popular, havia deixado as classes altas desprovidas de defesa diante, primeiro, da penetração sutil, e depois do ataque direto das doutrinas deístas.
O santo também iniciou uma reforma espiritual do clero nos três aspectos fundamentais: vocação, ministério e oração, elevando o nível de preparação dos sacerdotes napolitanos.
De imensas repercussões pastorais foi sua polêmica contra o jansenismo, pois ela tocava diretamente a prática sacramental e a própria compreensão de Deus, da redenção, da salvação e da Igreja.
São Afonso ficou profundamente perturbado pela disseminação daquela corrente devastadora e atuou com vigor para preservar intacta a fé no povo, com especial ênfase na devoção a Maria.
Graças a seus escritos, a prática da meditação cristã tornou-se muito comum, enraizando-se em todas as classes sociais uma sabedoria cristã, recheada de exemplos e máximas, fruto da assimilação de ensinamentos eternos e diários espirituais.
As Visitas ao Santíssimo Sacramento obtiveram ampla difusão, a ponto de se poder afirmar que “o despertar eucarístico europeu da segunda metade do século XVIII e de todo o XIX deve-se a esse livrinho, verdadeiro código da piedade alfonsiana e da mais genuína religiosidade católica”.
Do movimento impulsionado por São Afonso — que se entrelaça, no início do século XIX, com uma nova floração de práticas religiosas de espírito inaciano, especialmente graças à atuação do padre Nikolaus Albert von Diessbach S.J. e do venerável Pio Bruno Lanteri — surge uma piedade fortíssima, que se tornaria o principal alimento espiritual das famílias católicas ao longo de todo o século XIX e além, especialmente nas zonas rurais.
Gigante da história da espiritualidade, mas também da história em sentido amplo, São Afonso Maria de’ Liguori levou a cabo um extraordinário trabalho de animação cívica e cultural, dotando a Igreja e a sociedade de numerosos e sólidos bastiões, que mais tarde ofereceriam resistência vigorosa à Revolução.
Aqui está a tradução completa e precisa da seção “2. A Revolução – a. A agressão militar”, com estilo coerente ao resto do texto já traduzido:
2. A Revolução
a. A agressão militar
São Afonso Maria de’ Liguori faleceu em 1787. Dois anos depois, estourava a Revolução Francesa, que logo foi exportada para toda a Europa, provocando reações intensas em diversos países.
Se a “Liberdade” trazida pela ponta das baionetas francesas agradava a certos círculos imbuídos de racionalismo e volterrianismo, os povos se levantavam unanimemente em defesa dos tronos e dos altares, opondo às ideias abstratas e literárias daquela “Liberdade” suas liberdades concretas e tradicionais.
Daí surgem:
as insurreições piemontesas, mesmo após a fuga da família real para a Sardenha;
os confrontos na Porta Ticinese de Milão, em Pavia e em Binasco;
a resistência heroica dos vales de Bréscia, fiéis à República de São Marcos;
os “Pascuais Veroneses”;
os “Viva Maria”;
os insurretos das Marcas, que se uniram aos seus chefes de massa sob as bandeiras do general Lahoz e libertaram Ancona dos franceses.
Quando, em novembro de 1798, após conquistar Roma e os Estados Pontifícios, o exército revolucionário invade o Reino de Nápoles, a monarquia napolitana — como o próprio Benedetto Croce reconhece —, sem esperar por isso, sem sequer prever tal desfecho, viu plebes rurais e urbanas se levantarem em sua defesa, lançando-se animadamente à guerra para lutar e morrer pela religião e pelo rei, sendo chamadas, pela primeira vez, de “bandos da Santa Fé”.
Estimulado pelo sentimento religioso e nacional, o povo dos Abruzzos foi o primeiro a se erguer unido contra o invasor. Bastava o toque a rebate dos sinos para que os habitantes das montanhas se reunissem em assembleias, tomassem as armas, e cada aldeia se transformasse em centro de insurreição.
Os inimigos tentaram quebrar todos os sinos, mas a mobilização continuava com cornos de pastores.
A resistência foi reforçada pela proclamação do rei Fernando IV de Bourbon, dirigido a seus súditos por ocasião da festa de 8 de dezembro de 1798, no qual os convocava a defender o que tinham de mais sagrado:
“A religião, a honra de vossas esposas e irmãs, vossas vidas e vossos bens. [...] Meus camponeses, armem-se, acorram com todas as suas armas, invoquem a Deus e estejam certos da vitória!”
As insurreições, contudo, haviam começado antes mesmo do apelo real:
a resistência em Teramo já se ligava àquela conduzida, no departamento pontifício do Tronto, pelos camponeses das Marcas;
do Monte Circeo, onde a Virgem da Vitória foi invocada como libertadora e sua imagem foi pintada nos estandartes, o fogo da insurreição se propagou a Terracina — onde a cruz substituiu a “árvore da liberdade” — e então por toda a região da Terra di Lavoro.
O governo borbônico teve papel crucial para dar às insurreições um caráter mais amplo e coeso, distinguindo-as das reações locais e esporádicas que ocorriam em outras partes da península contra os franceses e seus aliados.
Estes, por sua vez, reagiram com extrema ferocidade:
nas localidades dos Estados Pontifícios — Alatri, Narni, Sezze, Ferentino, Anagni;
e no reino de Nápoles — Fondi, Sessa, Cassino, Itri, San Germano, Isernia —,
as populações foram massacradas sem distinção.
Contudo, mais do que os massacres, permaneceram na memória popular os sacrilegios, o comportamento ímpio e as blasfêmias proferidas pelas tropas ocupantes — retrato dos dez anos de Revolução na França.
Apesar da violência, a resistência não se enfraquece, e as frágeis autoridades revolucionárias impostas pelas tropas são rapidamente derrubadas por artesãos e camponeses unidos.
A nova conjuntura não é compreendida em Nápoles, onde a corte parece paralisada pelo medo de ficar encurralada na capital.
Em 21 de dezembro de 1798, o rei foge para Palermo, nomeando como vigário-geral do reino o príncipe Francesco Pignatelli di Strongoli.
A autoridade moral do vigário era fraca: o exército estava desfeito, comandado por um inepto general austríaco, Carl Mack, e a partida do rei abalava o prestígio da monarquia, tanto junto à nobreza descontente, quanto à classe média neutra.
A ele se opunha a magistratura urbana, conhecida como Corpo da Cidade ou simplesmente Cidade: ela representava tanto a municipalidade napolitana quanto o reino inteiro, sendo depositária dos privilégios da nação.
Com base no direito tradicional, o jovem príncipe de Canosa, figura de destaque da nobreza, reivindicava à Cidade o direito e o dever de representar a nação na ausência do rei, como já ocorrera outras vezes no passado.
O vigário — expressão do absolutismo, que buscava romper o vínculo orgânico entre monarca e sociedade — rejeitou as demandas da Cidade e iniciou negociações com os franceses.
Seguiram-se:
o vergonhoso armistício de Sparanise, em 12 de janeiro de 1799;
a rendição de Capua;
traições e violações subsequentes;
a fuga vergonhosa do vigário;
e a retomada da ofensiva francesa.
Alarmados, os napolitanos se armaram e tomaram os castelos da cidade para impedir que fossem entregues ao inimigo.
O controle popular da situação, em especial pelos “lazzari” (as camadas populares), foi chamado de “anarquia” — mas tratava-se de uma anarquia pacífica, que poderia ter se transformado em ordem heroica, caso alguém com autoridade e capacidade tivesse assumido a liderança daquelas massas ansiosas por organização.
O príncipe de Moliterno, herói da guerra de 1796, foi aclamado comandante militar, mas logo aderiu ao campo adversário, ocupando com os jacobinos o castelo de Sant’Elmo, de onde se dominava toda a cidade.
Os lazzari então escolheram líderes dentre seus próprios pares e se uniram a cerca de quatro mil soldados, dispersos pela covardia dos oficiais, mas ainda dispostos a lutar.
Enquanto isso, os jacobinos, reforçados pela libertação de presos políticos, assumiram a hegemonia entre os setores médios e altos da sociedade.
O povo demonstrou grande capacidade de organização, com momentos de coordenação baseados em estruturas internas da sociedade napolitana, como corporações de ofício, Capelas Vespertinas e outras formas religiosas de associação leiga.
Os franceses tiveram que empregar todos os esforços para esmagar a resistência.
Somente após três dias sangrentos, o general Jean-Étienne Championnet pôde anunciar ao Diretório francês:
“[…] jamais houve combate tão obstinado, jamais cena tão horrível.
Os lazzaroni, esses homens extraordinários, os regimentos estrangeiros e napolitanos que escaparam do exército que fugiu diante de nós, encerrados em Nápoles, são heróis.
Combate-se em todas as ruas, o terreno é disputado palmo a palmo.
Os lazzaroni são comandados por líderes intrépidos.
O forte de Sant’Elmo os bombardeia, a terrível baioneta os derruba, mas eles recuam em ordem e retornam ao ataque”.
Após a derrota, o povo assume uma postura de expectativa, mas mantém viva a resistência antifrancesa, apesar da traição de alguns líderes, seduzidos pelas promessas do astuto general Championnet.
b. A “democratização” forçada
No dia 21 de janeiro de 1799, enquanto ainda se lutava pelas ruas da capital, foi proclamada no castelo de Sant’Elmo a República Napolitana.
Os “patriotas”, como os revolucionários se autodenominavam, logo perceberam que estavam desligados da imensa maioria da população, isolados inclusive das camadas burguesas neutras, e submetidos ao controle dos franceses.
Em vez de governarem, perderam-se em problemas teóricos e divagações, que não passavam de cortinas de fumaça diante da realidade trágica; os debates, as leis, os panfletos, a organização do Estado, tudo se resumia a jogos de salão.
Nenhuma questão concreta era enfrentada; enunciavam-se apenas grandes utopias, discutiam-se ideias abstratas, ideais impessoais, sem nenhuma ligação com a realidade popular.
Acreditando na virtude mágica da “Liberdade” e venerando o regime republicano como uma forma eterna e infalível, quase religiosa, os patriotas achavam que bastaria promulgar certas leis fundamentais para alcançar automaticamente a felicidade dos povos.
Descobriram, porém — como já haviam descoberto seus colegas franceses —, que o povo real não era o “Povo” idealizado por suas teorias.
Paralisados entre o fascínio de um povo mítico e o terror da “plebe” concreta, chegaram à conclusão de que essa estava corrompida e precisava ser forçada à “virtude”.
Poucos aderiram de fato à república.
Os demais, “acostumados a correr atrás da carruagem do vencedor, gritando e jurando, repetiam apenas da boca para fora as fórmulas da moda, apoiando a facção dominante apenas por interesse ou por medo”.
O marinheiro de Santa Lucia, fuzilado por gritar “Viva o rei!” diante de soldados franceses que exigiam que ele aclamasse a “Liberdade”, tornou-se símbolo do povo autêntico, que não se curvava diante da Revolução.
Os ocupantes nada faziam para conquistar simpatia.
Massacravam monges indefesos, violavam mulheres e religiosas, incendiavam igrejas, profanavam relíquias dos santos, e organizavam carnavais sacrílegos com objetos litúrgicos, enquanto os republicanos toleravam manifestações públicas de irreligiosidade que ofendiam profundamente a consciência do povo.
Foi escandalosa, por exemplo, a festa realizada no convento de São Martinho por ocasião da proclamação da república; escandalosa a atitude de alguns frades que, lançando fora a batina, casaram-se “republicanamente”; escandalosos os panfletos que incitavam frades e freiras a abandonarem os conventos “pela propagação da espécie”.
Quanto ao convite feito ao clero para fazer propaganda a favor do novo governo, parece ter tido pouquíssimo efeito, já que, em 13 e 15 de março de 1799, o ministro do Interior teve de reiterar o apelo a bispos e sacerdotes para que “iluminassem os ignorantes”.
As instruções de 12 de março eram extremamente detalhadas, chegando a conter o esboço dos sermões que os padres deveriam pregar.
Ainda assim, não faltaram padres e frades que, “extraindo do Evangelho doutrinas de igualdade política e traduzindo ao dialeto napolitano algumas frases de Jesus Cristo, incitavam ao ódio aos reis, ao amor pelos governos livres e à obediência às autoridades do momento”.
Entre março e abril foram suprimidos nove conventos, e logo depois, mais dois, oficialmente para alojar tropas.
Para muitos, porém, era evidente que o objetivo real era privar o povo dos serviços espirituais oferecidos por essas comunidades:
“Por que não ocupar as casas de Monteoliveto, San Pietro a Majella e Montevergine, que pregam mas não confessam, em vez de incomodar quem prega, confessa e realiza missões?”
O arcebispo Giuseppe Maria Capece Zurlo, já fragilizado pela idade, não conseguiu manter uma atuação firme e deixou-se arrastar pelos acontecimentos.
Aos novos mandatos do general Championnet, respondeu com uma carta pastoral em favor da república.
Tentou resistir à política dos ministros Francesco Conforti e Vincenzo Troyse, mas — seja por surpresa, seja por consentimento tácito — manteve silêncio quando viu publicada em seu nome uma excomunhão contra o cardeal Fabrizio Ruffo, acusado de ter-se proclamado papa com o nome de Urbano IX.
À perseguição religiosa seguiu-se a espoliação econômica.
Se “nos dias da desordem os lazzari roubavam conforme seu talento, nos dias da ordem, os franceses roubavam segundo a lei”.
Cercados por insurreições generalizadas, os franceses enviavam colunas para o interior — não tanto para reprimir, mas para saquear.
Ao fim, resignaram-se a permanecer entrincheirados em fortalezas, enquanto o campo era deixado a “democratizadores” oficialmente credenciados por uma comissão central.
Mas:
“Cada um deles agiu segundo seu próprio juízo — geralmente muito limitado —, tornando-se ridículos por sua ignorância e retórica vazia; ou, destruindo antigos costumes, ofenderam e revoltaram a população”.
As novas municipalidades foram confiadas a membros da burguesia e a alguns nobres, enquanto o povo reagia quase por toda parte com um forte e amplo movimento realista.
3. A Contrarrevolução
a. In hoc signo vinces
O plano de dar uma liderança capaz e legítima à reação popular, para então restaurar o poder legítimo no reino, surgiu quase imediatamente na corte de Palermo.
Os Abruzzos estavam em agitação desde 13 de janeiro. Na Puglia, já nos primeiros dias de fevereiro, muitas cidades haviam erguido a “árvore da liberdade”, mas, em poucas horas, as camadas populares se revoltaram.
Apenas algumas municipalidades resistiram por mais tempo, como Altamura e Martina Franca, que chegaram a promover uma federação de cidades republicanas contra as realistas.
A Calábria parecia ser facilmente reconquistada, como se deduz do episódio do pároco don Biagio Rinaldi, de Scalea, que, desde 13 de janeiro, havia escrito ao rei dizendo-se pronto para reconquistar o reino com os calabreses apenas:
“A alma daquele pároco era, naquele momento, a alma da Calábria. Faltava apenas dar-lhe uma liderança”.
Essa liderança foi encontrada em Fabrizio Ruffo, dos duques de Baranello, cardeal da ordem dos diáconos.
Nascido em San Lucido, Calábria, em 16 de setembro de 1744, de família nobre, fora educado em Roma por seu tio, o cardeal Tommaso.
Em 1781, o papa Pio VI o nomeou Clérigo da Câmara, e, em 1785, com apenas 40 anos, tornou-o Tesoureiro-Geral; seis anos depois, criou-o cardeal.
Em 1794, Ruffo foi chamado de volta a Nápoles, não para ser cortesão, mas para assumir o governo da colônia de San Leucio, e mais tarde foi investido pelo rei com a abadia de Santa Sofia, em Benevento. Fiel à Coroa, em 1799, não hesitou em deixar Nápoles, então republicana, para se dirigir à Sicília.
No dia 8 de fevereiro de 1799, apenas duas semanas após a conquista de Nápoles pelos franceses, Ruffo desembarcou em Pezzo, na Calábria, com o título de vigário-geral do reino e alter ego do soberano, com o objetivo de organizar a resistência no continente.
Estava acompanhado apenas por alguns poucos homens: dois secretários eclesiásticos, um capelão e dois criados.
Seu “equipamento” consistia em uma grande bandeira de seda branca, com o brasão real de um lado e, do outro, uma cruz com a inscrição “In hoc signo vinces”.
Homem de múltiplas capacidades e administrador sagaz, Ruffo não possuía grande experiência militar, mas tinha as qualidades de um líder: era resoluto, ponderado e dotado de bom senso e oportunidade.
Desde o início, sua ação foi enérgica.
Destacaram-se, sobretudo, suas cartas e encíclicas enviadas aos povoados vizinhos, bem como a proclamação aos “bravos e corajosos calabreses”, no qual denunciava os revolucionários por quererem:
“roubar-nos (se possível) o mais precioso dom do Céu, a nossa Santa Religião, destruir a Divina Moral do Evangelho, saquear nossos bens, atentar contra a pureza de nossas mulheres”
e convocava os súditos a se unirem:
“sob a bandeira da Santa Cruz e de nosso amado Soberano.
Não esperemos que o inimigo venha contaminar estas terras: marchemos contra ele, repelindo-o, expulsando-o do nosso Reino e da Itália, e quebrando as bárbaras correntes de nosso santo Pontífice.
O estandarte da Santa Cruz nos garante uma vitória completa”.
Inicialmente, aderiram oitenta homens; nos dias seguintes, mais 150 armados chegaram de Santa Eufemia — o primeiro núcleo da Armata Cristiana e Reale della Santa Fede in Nostro Signore Gesù Cristo, com a cruz branca da Santa Fé costurada no lado direito dos bonés.
A notícia se espalhou rapidamente, e em Rosarno, Ruffo já contava com 1.500 homens.
Em Mileto, em 24 de fevereiro, organizou oito companhias regulares — o Regimento dos Reais Calabreses — que se somaram às tropas de “massa”.
O exército reunido por Ruffo era extremamente heterogêneo:
grandes proprietários,
eclesiásticos de todos os graus,
comerciantes, artesãos, camponeses,
guardas baroniais,
militares das extintas cortes de justiça —
estes últimos, ao lado de alguns oficiais e soldados do exército real, eram os mais disciplinados.
Mas havia também homens atraídos pela fé, pelo apoio à monarquia, ou mesmo por desejo de pilhagem ou vingança pessoal.
Ruffo, sobretudo no início, não pôde ser exigente na seleção, mas logo sua capacidade organizadora se impôs.
Assim que desembarcou, providenciou uniformes, e depois organizou as tropas, reduzindo o número e melhorando a disciplina.
Durante a marcha, concedeu alívios fiscais aos camponeses, e demonstrou severidade e senso de justiça:
confiscando as terras de nobres ausentes (inclusive de seu próprio irmão, Vincenzo),
punindo severamente saqueadores e violentos, com execuções sumárias.
Recebia pessoalmente aqueles que tinham disputas a resolver, para que “todas as populações do Reino fossem servidas da melhor maneira possível”.
Os libertadores eram recebidos com procissões, cantos e tiros festivos.
“O avanço do exército cristão, ao som de canções entoadas entre as fileiras, acompanhado por gaitas de fole, violas, guitarras e danças espontâneas, parecia um alegre cortejo festivo”.
Esse caráter “festivo” da guerra popular não a impedia de seguir os moldes clássicos da guerrilha camponesa, embora o caráter localista das insurreições retardasse significativamente o avanço, mais até que a fraca resistência dos revolucionários.
As três repúblicas da planície de Gioia Tauro se dissolveram sem combates, e a reação tomou conta de todos os povoados entre Rosarno e Monteleone, num processo de “realização espontânea” das municipalidades republicanas.
Porém, após a libertação de Crotone, grande parte dos combatentes retornou aos campos, para retomar suas atividades agrícolas.
O cardeal teve então que reconstruir literalmente a Armata.
Nesse momento, brilharam sua força de espírito, capacidade de organização, proximidade com os soldados e incansável atuação como animador e condutor, todos fatores decisivos para o êxito da campanha.
Em Crotone, antes de retomar a marcha, Ruffo, vestido de púrpura, com grande pompa religiosa, entre lágrimas de comoção e aplausos festivos do povo fiel, plantou com as próprias mãos a Cruz, no lugar onde antes se erguia a supersticiosa árvore da quimérica liberdade.
Após saques e abusos, no entanto, em 27 de março, foi promulgado um édito ameaçando com corte marcial todos os que cometessem novas atrocidades.
O objetivo principal do cardeal Ruffo era a pacificação do Reino: restaurar a monarquia significava, antes de tudo, reconciliar os campos opostos.
“É preciso habilidade, pois nos falta a força.
Habilidade, porque, infelizmente, isso se tornou uma guerra civil.
Habilidade, pois destruir a outra parte é destruir a nossa pátria.
E restaurá-la é tarefa muito difícil”.
Sabia que a restauração, para ser duradoura, não podia ser superficial.
O conflito com a corte surgiu nesse ponto: havia visões distintas sobre a reconstrução do Reino e sobre o papel da classe dirigente no governo da dinastia restaurada.
Ruffo defendia confiar o poder a homens ideologicamente preparados e a uma nobreza reintegrada em suas funções.
O rei, porém, queria acentuar o despotismo, amedrontar nobres e burgueses, e levar ao extremo um paternalismo populista.
Ferdinando IV perdeu a chance histórica de uma restauração verdadeira, e o cardeal, acusado de simpatias jacobinas, foi afastado assim que possível.
b. Um milagre da Providência
As notícias sobre os sucessos da Armata Real e Cristã aumentavam, em Nápoles, as fileiras dos neutros, que se somavam aos derrotados de janeiro, à espera do momento da revanche.
Os jacobinos estavam divididos entre si, disputavam cargos, fomentavam suspeitas e acusações, incentivando calúnias e delações.
O grupo dos chamados “puros” afastava-se cada vez mais da realidade, sonhando com uma república ideal, negando a força das insurreições e iludindo-se com paradas e cerimônias, nas quais se queimavam solenemente bandeiras tomadas aos camponeses.
A Comissão Legislativa, reorganizada como Comitê Secreto, começou a tomar medidas cada vez mais severas.
Foi decretada a conscrição obrigatória de todos os cidadãos entre 16 e 60 anos, incluindo padres e monges.
Fixaram-se penas duríssimas para autoridades que não prendessem alarmistas; todos os cidadãos foram obrigados a usar a cocarda nacional; as execuções por fuzilamento tornaram-se cotidianas.
Era fácil ser acusado e condenado, pois:
“a avaliação da prova era deixada à consciência do juiz, sem exigência de critérios legais”.
O general Jacques-Étienne Mac Donald, que substituíra Jean-Étienne Championnet, culpou os ministros do culto pelas revoltas, ordenou a execução imediata de qualquer um encontrado armado, e determinou que os municípios fossem coletivamente responsabilizados por mortes de “patriotas” e soldados franceses.
As municipalidades realistas, quando acessíveis aos franceses, eram literalmente devastadas.
Carbonara, centro da resistência na Terra de Bari, foi posta:
“a saque, ferro e fogo, com o saque durando dez dias, a ponto de não restarem portas nem janelas nas casas, nem mesmo pregos nas paredes [...] sem poupar nem as igrejas”.
Montrone, Valenzano, Ceglie sofreram saques, incêndios e massacres;
Andria foi arrasada, com seis mil habitantes mortos à espada:
“Alexandre Dumas acrescenta que essa operação foi como um auto de fé expiatório”.
Em abril, os franceses começaram a retirada, deixando atrás de si um rastro sangrento de opressões e violências, às quais o povo reagiu com vigor e determinação.
As tropas inimigas que abandonavam os Abruzzos foram enfrentadas pelos montanheses na Madonna delle Grotte, perto de Antrodoco, sendo aniquiladas.
O mesmo ocorreu na Terra di Lavoro, Lácio e Toscana:
“Por toda parte, o povo se erguia, derrubava as árvores da liberdade, amaldiçoava os que o haviam governado, e pela vitória das armas imperiais fazia votos aos céus.
Em Arezzo e Siena, no Valdarno e Valdichiana, ouviam-se gritos por toda parte:
Viva Maria! Viva Ferdinando! Viva o Imperador!”.
A avançada da Santa Fé também despertava entusiasmo.
Quando o bispo de Policastro, Dom Ludovici, publicou em uma pastoral o proclama do cardeal Ruffo conclamando às armas, toda a costa do Cilento se revoltou:
“O povo, gritando Viva a Santa Fé, derrubou árvores e emblemas republicanos, ergueu novamente a cruz, restaurou os magistrados reais e grandes grupos armados se uniram aos seus líderes”.
Na noite entre 9 e 10 de maio de 1799, dez mil sanfedistas tomaram Altamura, reduto da república, que Fabrizio Ruffo considerava:
“a mais feroz e rebelde cidade encontrada no caminho”.
Os republicanos resistiram com ferocidade, e, para evitar o saque da cidade, o cardeal mandou cercá-la com tropas de confiança, para impedir a fuga com despojos.
Apesar dessas medidas prudentes, que coroavam uma atuação conciliadora e sensata, calúnias já degradavam a figura do cardeal, apresentado como general saqueador, chefe de hordas de bandidos e forçados, um “homem vil”, o “Cardeal Monstro”.
Muito se alardeava sobre os massacres de Crotone e Altamura, mas nenhuma palavra era dita sobre Benevento, Piedimonte, L’Aquila, Isernia, Andria e outras dezenas de centros, grandes e pequenos, vítimas da crueldade revolucionária.
A historiografia oficial preservou apenas os massacres atribuídos aos sanfedistas, exagerados com o tempo, a ponto de o cardeal e a Santa Fé receberem dos pósteros julgamentos mais injustos que os feitos por seus contemporâneos.
Após conquistar Altamura, a Armata Real e Cristã enfrentou obstáculos inesperados:
“As mulheres altamuranas [...] causaram à armada cristã os mesmos efeitos que as mulheres de Cápua causaram aos soldados de Aníbal [...]. No momento da partida, todos os comandantes tiveram que ir de casa em casa para separá-las dos soldados”.
Outro problema era o uso dos reforços turcos.
O exército tinha um caráter profundamente cristão, a cruz era seu símbolo, “Viva a Santa Fé!” seu grito de guerra, e não se aceitava a presença de infiéis, ainda que estivessem agora ao lado de católicos contra outros católicos.
Decidiu-se então transportar os turcos por mar até o Golfo de Nápoles, onde estariam de prontidão.
Era chegada a hora de marchar sobre Nápoles.
Nos arredores da capital, o clero saiu ao encontro do cardeal com o Santíssimo Sacramento:
“Ruffo desmontou do cavalo, recebeu a bênção, fez o Santíssimo ser reconduzido à igreja e orou ao Deus dos exércitos”.
Em 13 de junho de 1799, após a última batalha, a Armata entrou em Nápoles, que já estava enfeitada com panos brancos floridos de lírios e cocardas escarlates.
A vitória na ponte da Maddalena, ocorrida justamente no dia de Santo Antônio de Pádua — um dos santos mais venerados pelos sanfedistas — foi considerada milagrosa:
“Santo Antônio acompanhava o cardeal e voava sobre suas tropas.
O rei obteve do Papa a inclusão de Santo Antônio entre os protetores do Reino de Nápoles, e o dia 13 de junho tornou-se festa de preceito”.
Mas a celebração durou pouco.
O povo, que não esquecera traições, derrotas, brutalidades e saques, vingou-se ferozmente de seus inimigos.
Fabrizio Ruffo tentou conter a guerra civil, mas por pouco não foi preso.
Nem mesmo seus protestos contra a traição do almirante inglês Nelson, que violou a convenção firmada com os vencidos, surtiram efeito.
A restauração reduziu-se a uma operação policial, e a monarquia reinstaurou seu domínio absoluto, sem compreender a necessidade de uma ampla ação de formação doutrinária e contrarrevolucionária da elite dirigente, nem de advertir a população sobre a infiltração sectária.
Em 1806, diante de nova invasão francesa, o rei tentou mobilizar novamente o cardeal, que respondeu:
“Essas empreitadas só se fazem uma vez na vida”.
Epílogo
Quase dois séculos depois, é preciso:
“restaurar ao sanfedismo original e autêntico o mérito inegável de ter representado, no sul da Itália, a resistência espontânea de populações autenticamente católicas e leais à autoridade legítima, contra os abusos, as violências e a obra descristianizadora de um governo imposto e sustentado por forças estrangeiras, em desrespeito às tradições políticas e religiosas locais”.
Nosso dever não é apenas recordar o sacrifício desses heróicos filhos da nação italiana, mas também recuperar e difundir seu espírito, para com ele combater a cruzada do século XXI.
Canto dei Sanfedisti
Ao som do bumbo viva,
viva o povo de baixo,
ao som dos tamborins
ressuscitaram os pobrezinhos.
Ao som dos sinos
viva, viva os populares,
ao som dos violinos:
morte aos jacobinos!
Toca, toca,
toca Carmagnola!
Toca os conselhos,
viva o rei com sua família!
Em Sant’Eremo, tão imponente,
o fizeram virar ricota,
nesse corno sem vergonha
botaram a mitra na cabeça.
Majestade, quem te traiu?
Que estômago teve esse aí?
Os senhores, os cavalheiros,
queriam você prisioneiro.
Toca, toca,
toca Carmagnola!
Toca o canhão,
viva sempre o Rei Bourbon!
No dia treze de junho,
Santo Antônio glorioso,
esses senhores, esses patifes,
levaram uma boa surra.
Vieram os franceses,
nos encheram de impostos,
liberté... egalité...
você rouba de mim,
eu roubo de você!
Toca, toca,
toca Carmagnola!
Toca o canhão,
viva sempre o Rei Bourbon!
Os franceses chegaram,
arrancaram tudo da gente,
et voilà, et voilà...
enfiem no cú essa liberdade!
E onde foi parar Dona Eleonora,
que dançava no teatro?
Agora dança no mercado,
junto com o carrasco Donato!
Toca, toca,
toca Carmagnola!
Toca os conselhos,
viva o rei com sua família!
Na ponte da Maddalena,
dona Luisa saiu "grávida",
e três médicos que foram lá
não conseguiram fazê-la parir.
E Dona Eleonora, onde foi parar?
Antes dançava no teatro,
agora dança com os soldados
e nunca mais voltou a dançar!
Toca, toca,
toca Carmagnola!
Toca os conselhos,
viva o rei com sua família!
Os navios já estão prontos,
corram todos para fazê-los partir,
preparem-se alegres,
porque eles têm que zarpar.
No mar está o inferno,
com seus portões em chamas:
traidores, afundem de vez,
não vão mais poder roubar!
Toca, toca,
toca Carmagnola!
Toca o canhão,
viva sempre o Rei Bourbon!
No cais, terminada a guerra,
derrubaram a árvore (da liberdade),
pegaram os jacobinos
e os fizeram de trapos sujos!
Acabou-se a igualdade,
acabou-se a liberdade,
para vocês não passou de dor de barriga:
senhores, vão para a cama!
Toca, toca,
toca Carmagnola!
Toca os conselhos,
viva o rei com sua família!
Passou o mês Chuvoso (janeiro),
o Ventoso e o Iroso (fevereiro e março),
e com o mês em que se colhe (junho),
levaram a pior! (com alho no traseiro!)
Viva Tata Maccarone,
que respeita a religião.
Jacobinos, joguem-se ao mar,
que o traseiro de vocês já está ardendo!
Toca, toca,
toca Carmagnola!
Toca os conselhos,
viva o rei com sua família!
Comentário sobre ’A Carmagnola napulitana
A Carmagnola napolitana é uma canção satírica, popular e política surgida em Nápoles no contexto da queda da República Partenopeia em 1799. Adaptada do canto revolucionário francês La Carmagnole (1792), a versão napolitana subverte o sentido original da música: se na França ela celebrava a Revolução e a luta contra os reis, em Nápoles ela virou arma do povo contra os jacobinos, a república e os franceses.
Origem e contexto histórico
A Carmagnola original nasceu na cidade piemontesa de mesmo nome, conhecida por sua produção de cânhamo. Quando a região passou ao controle dos Saboias, muitos trabalhadores emigraram para Marselha, levando consigo suas roupas, danças e canções — entre elas, a Carmagnole. Durante a Revolução Francesa, os sans-culottes adotaram o nome para batizar uma balada satírica e provocadora, cantada em marchas e festas. Com a expansão napoleônica, ela foi proibida por Napoleão em 1806, mas já havia se espalhado por toda a Europa, adaptando-se a diversos contextos sociais e políticos.
Em Nápoles, a canção foi “reapropriada” e transformada em um grito contra-revolucionário, acompanhando a mobilização sanfedista liderada pelo cardeal Fabrizio Ruffo, que reconquistou a cidade para os Bourbons. Os versos, em dialeto napolitano, refletem o ponto de vista do povo pobre — os lazzari —, que rejeitou a República e permaneceu leal ao rei e à religião católica.
Estrutura e estilo
A versão napolitana é composta por oito estrofes em ottava rima, intercaladas por um refrão de quatro versos que alterna duas variações:
“Sona sona / sona Carmagnola / sona li cunziglie / viva ’o Rre cu la famiglia!”
“Sona sona / sona Carmagnola / sona lu cannone / viva sempe ’o Rre Burbone!”
O “sona” (toca) refere-se à música, mas também ao chamado à revolta — seja pelo som de instrumentos populares (tamburello, violino, campana), seja pelo canhão. Os versos utilizam rimas simples e diretas, com forte carga irônica e popular, repletas de expressões do cotidiano e até escatológicas, reforçando sua origem nas ruas.
Temas principais
Chamada à revolta popular: A primeira estrofe convoca o “popolo bascio” (povo humilde) à luta contra os jacobinos ao som de instrumentos populares. Cada instrumento representa um grupo do povo.
Crítica à República Partenopeia: A canção narra a traição dos nobres e burgueses ao rei, a repressão do povo, os abusos dos franceses, e a resistência dos lazzari (principalmente em Castel Sant’Elmo), aludindo à tomada da cidade pelo exército sanfedista no dia 13 de junho de 1799 — dia de Santo Antônio.
Ironia e escárnio: Os versos fazem troça das promessas de liberdade, igualdade e fraternidade que teriam sido, na prática, apenas pretextos para roubos e impostos abusivos. A expressão “tu arruobbe a mme, ie arruobbe a tte” satiriza o ideal revolucionário como corrupção mútua.
Personagens femininas e simbolismo social:
Donn’Eleonora seria Eleonora de Fonseca Pimentel, poetisa e republicana jacobina, executada em 1799. A letra faz referência à sua atuação pública (“abballava ’ncopp’o triato”), ironizando que agora “dança no mercado com o carrasco Mastro Donato”, alusão à sua execução na Piazza del Mercato.
Donna Luisa refere-se a Luisa Sanfelice, que alegou estar grávida para escapar da pena de morte. A canção faz piada com os médicos que “não conseguiam fazê-la parir”, pois não havia gravidez real.
Derrota jacobina: As últimas estrofes celebram o fim da guerra, o derrube da “árvore da liberdade” (símbolo revolucionário), a captura dos jacobinos e o retorno à ordem tradicional, representada pela monarquia e pela religião. Os versos ridicularizam os derrotados como “estragados”, “com dor de barriga” e os mandam literalmente “dormir” ou “jogar-se no mar”.
Referências ao calendário revolucionário: A última estrofe menciona os meses “piovoso, ventoso e iroso” (Pluviôse, Ventôse e Germinal), do calendário da Revolução Francesa (janeiro, fevereiro e março), afirmando que, no mês atual (junho), os revolucionários “receberam alho no traseiro” — metáfora para derrota humilhante.
Legado
Ao contrário da narrativa liberal-risorgimentale, que celebra a República Partenopeia como um movimento iluminista e patriótico, a canção expressa a visão do povo, que viu na república uma imposição estrangeira, distante de suas tradições e crenças. O povo não desejava mudanças radicais; queria estabilidade, religião e o retorno do rei.
Sua linguagem crua e direta faz da Carmagnola um libelo contra os “mitos revolucionários” e uma defesa das tradições locais. É, por isso, uma fonte preciosa para compreender a complexidade política e cultural do Mezzogiorno italiano no fim do século XVIII.
Referências
- 1799: la crociata della Santa Fede:
- Carmagnola (‘a Carmagnole):
- Sona Carmagnola-il canto dei Sanfedisti: testo, storia, spiegazione: